
Vinícius Vieira Pereira
Prof. Departamento de Economia da UFES
Tutor do programa Pet Economia/UFES
Em meio à crise causada pela COVID-19 no mundo, as duas primeiras semanas de abril foram marcadas, no Brasil, por uma onda de otimismo. Não um otimismo pautado no aumento da capacidade dos sistemas de saúde público e privado do país, o que ajudaria sobremaneira a enfrentar a escalada do vírus e iniciar um processo de recuperação da economia, mas sim, baseado em supostos sinais positivos que estariam chegando do mercado de capitais. Apesar de, no Brasil, a grande onda da pandemia estar apenas no estágio inicial de sua formação, as notícias sobre a redução do ritmo de contágio do novo coronavírus em outras regiões do planeta pareciam ter sido suficientes, de acordo com a mídia especializada, para desencadear um sentimento de euforia no mercado de capitais do Brasil, o qual, supostamente, estaria apenas antecipando o início de uma reação contra o vírus.
Especialistas em mercado financeiro se manifestavam afirmando que “os sinais de desaceleração da doença nos países mais afetados da Europa, como Itália, Espanha e França, contribuíram para o bom humor e o apetite por risco nesta segunda-feira (6/4) no país”. Aliado a isso, a permanência do ministro da saúde, tão polemizada no jogo político nas últimas semanas, era um componente a mais que contribuía para “elevar o nível de confiança do mercado no Brasil”[1] . O sinal verde parecia, então, aceso para a compra de títulos, afinal, se os preços desses papéis chegavam a níveis muito baixos quando comparados ao preço médio em tempos de normalidade, nada mais racional do que apostar em ganhos estratosféricos quando a subida recomeçasse. Do fundo do poço não há de passar! Ainda que, para alguns, o poço possa ser mais fundo e, nesse caso, poderia ser interessante esperar um pouco mais pelo timing e conseguir preços de compra ainda mais vantajosos[2].
As notícias que dominaram os cadernos de economia enfatizavam a recuperação do Ibovespa, o índice da principal bolsa de valores do Brasil, a de São Paulo, em virtude da posição comprada dos investidores brasileiros, concomitante à zeragem dos papéis vendidos. A euforia parecia bater à porta, pois, os investidores que estavam em dúvida, pararam de vender seus papéis, dados os preços em baixa, e começaram a ingressar nas compras. Ao mesmo tempo, os que já estavam comprando, passaram a comprar mais. “Basta, agora, o Ibovespa, após ter superado os 72 mil pontos, atingir os 79 mil pontos, e o mercado brasileiro terá chegado ao ponto de virada”, resumia um animado analista gráfico[3].
Mas, no mundo real, a ordem era ainda de cautela e apreensão frente ao alarmante número de mortos e infectados em todo o planeta, afinal, no dia 12 de abril, o Reino Unido batia um triste recorde de 10 mil mortos e ultrapassava a China em número de infectados, ao mesmo tempo em que a Espanha, após um breve suspiro de alívio, voltava a assistir uma elevação na quantidade de vítimas fatais da doença e os EUA começavam a enterrar muitos de seus mortos em valas comunitárias[4]. A comunidade científica e a maioria esmagadora das autoridades governamentais mundo afora recomendavam atenção redobrada com a saúde, temendo o relaxamento das medidas de isolamento social e o risco do vírus mortal recobrar força e apetite. Além disso, as previsões para a economia global estavam bastante pessimistas, como a do secretário-geral da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, o mexicano Ángel Gurría, o qual apostava numa recessão que levaria anos até iniciar uma possível recuperação[5].
Frente a dois cenários tão contraditórios, o da vida real e o do mercado financeiro, questiona-se qual a relação existente entre eles, uma vez que a imprensa insiste numa conexão lógica entre ambos em meio a essa visível dicotomia. Por que o mundo real parece se comportar de uma forma enquanto o mercado de capitais, de outra, apesar da mídia especializada insistir em atrelar os movimentos do último aos acontecimentos que afetam o primeiro? Ora, se a expectativa é de crise econômica por conta dos estragos que a pandemia vem causando nos níveis de produção e emprego nas principais economias globais, quais são os critérios sobre os quais se baseiam as decisões daqueles que atuam no mercado de ativos e derivativos e o que explica tanta euforia em um momento tão crítico como este? Qual a relação entre essa duas esferas da acumulação da riqueza, ou seja, qual a real importância dos acontecimentos na economia produtiva para a valorização de ativos financeiros?
Afirmamos, de antemão, que previsões de ganhos no mercado financeiro não dependem da expectativa de crescimento da economia real, pelo menos, não necessariamente. “A esfera financeira é relativamente dissociada da esfera da produção”[6] , e, pode-se afirmar que a tendência de afastamento entre esses dois mundos tem progredido no capitalismo contemporâneo. Certamente que momentos de crescimento sustentado da economia real podem corresponder a ganhos na arena da especulação financeira, mas a primeira não é condição necessária para a segunda. E o contrário, também é verdadeiro, ou seja, momentos de crise na produção e na circulação de bens e serviços podem corresponder a movimentos de alta no mercado de papéis, especialmente, no que diz respeito aos instrumentos financeiros derivativos, os quais, no capitalismo contemporâneo, têm assumido protagonismo.
Segundo François Chesnais[7], que dedicou grande parte de suas pesquisas para entender o processo histórico de financeirização do capitalismo mundial e seus impactos sobre a sociedade contemporânea, a lógica da valorização financeira não é a da criação de riqueza real, entendendo como riqueza real aquela que é responsável pelos aumentos da capacidade de produção e de geração de emprego e renda. A dinâmica financeira, a partir dos anos 1980, dadas as transformações sofridas frente ao processo de liberalização e desregulamentação financeiras mundiais, mecanismo fundamental para o avanço da política e da ideologia neoliberais, passou a se impor ao mercado e não vice-versa. É o mesmo que dizer que a economia real é que segue os ditames da dinâmica financeira e não o contrário.
Desse modo, os acionistas, a governança coorporativa de modo geral, os bancos e financeiras, os fundos de hedge e de pensão, a partir de transformações jurídicas, quase jurídicas e regulatórias garantidas pelos governos liberais em todo o mundo nas últimas quatro ou cinco décadas, passaram a exercer a dominância sobre os empresários industriais, transformando-os em pessoas cujo código de conduta, a partir daí, começou a se basear não apenas em expectativas de lucros originadas em suas decisões de investimento produtivo, mas na criação de departamentos de portfólio imbuídos da tarefa de converter, parte dos lucros reais de outrora, em ganhos financeiros ou bursáteis[8].
Portanto, ganhos pecuniários oriundos de aplicações financeiras são perfeitamente compatíveis com momentos de crise, como o que vivemos atualmente, frente ao agravamento da pandemia e ao aumento no número de infectados e mortos pela COVID-19. Assim como também podem ocorrer em momentos de euforia em virtude de uma vitória sobre a gripe mortal, ainda que não signifique retomada da economia. É preciso desconstruir falsas relações predeterminadas de causa e efeito, que a imprensa liberal insiste em difundir, como as que buscam explicar os rumos da economia real com base na racionalidade do mercado de capitais. Tratam a razão e os instintos que movem os players do mercado financeiro como se eles emitissem sinais coerentes sobre o futuro próximo da economia, ou como frutos de uma resposta lógica aos fatos cotidianos que afetam a esfera material e movem a dinâmica social. Insistem em vender a ideia de que o mercado de títulos, ações e portfólios financeiros são como guias que percebem e antecipam, antes das variáveis reais, o caminho da retomada do crescimento da produção e da riqueza real. E isso é falso.
Há, de fato, um mercado primário, onde as empresas se capitalizam, por meio da emissão de suas ações, para levar adiante projetos reais de investimentos ou para gerar fluxo de caixa. É nesse mercado primário que as companhias de capital aberto lançam pequenas frações patrimoniais representadas pelas suas ações e os governos financiam suas dívidas públicas. É nesse mercado, alternativo ao dos empréstimos bancários, que as companhias conseguem recursos junto aos seus acionistas e os governantes levantam financiamento para as despesas públicas, pagando, em troca, uma renda. Esse mercado, em geral, costuma reagir conforme o aquecimento ou desaquecimento da economia, afinal, nenhum capitalista sairá em busca de fundos para produzir aquilo que ele sabe que não conseguirá vender, assim já percebia Keynes.
Mas, quando um indivíduo toma uma posição no mercado secundário, local onde a compra e venda de títulos públicos e ações privadas ocorrem totalmente alheias às suas fontes primárias, as empresas e os governos, tal ação pode estar destituída de qualquer ligação com o que acontece no mundo real. Assim, um comportamento de risco, assumido por algum “jogador” nesse mercado, pode estar completamente dissociado da escalada do Coronavírus, do número de mortos e infectados, da falência dos sistemas de saúde pública em grande parte do mundo, da expansão da pandemia.
Nos mercados secundários e de derivativos, a razão que move os indivíduos não necessita estar baseada na retomada do crescimento econômico ou da lucratividade das empresas, podendo, ao contrário, estar apostando na falência de uma parte destas e na continuidade da crise. Não reflete qualquer pretenso equilíbrio das contas públicas e pode, ao contrário, beneficiar-se de crescentes déficits. Prescinde da retomada dos empregos e do aumento do PIB. Sua lógica está baseada, simplesmente, numa aposta feita por especuladores quanto ao comportamento do mercado, ou seja, de uma comparação entre os preços presente e futuro de um título. Pode, até mesmo, basear-se apenas em apostas feitas sobre o comportamento de taxas de variações futuras, seja a dos juros internos ou externos, do câmbio, inflação ou desemprego. Pode, ainda que soe absurdo, estar pautada apenas na aposta de que a crise será mais grave amanhã do que já é hoje. Acrescente a esse quadro o poder disseminador dos algoritmos, em um mundo financeiro que é, por excelência, digital, em que posições tomadas por grupos de especuladores em diferentes lugares do mundo resultam em efeitos de manada e veremos, então, as conseqüências que esse mercado bursátil é capaz de desencadear na economia real, e não o contrário.
Em tempos de tamanha incerteza, como o que vivemos agora, quanto às variáveis reais da economia no curto, médio e longo prazos, o momento, inclusive, pode ser excelente para alavancar a riqueza financeira, e a crise, ao que tudo indica, poderá levar a ganhos extraordinários nesse mercado. Pelo menos essa é a impressão do Rei da Bolsa, apelido de Luiz Barsi, 80 anos, especulador que mantém mais de R$ 2 bi aportados em ações na Bovespa. Frente ao surto do novo coronavírus pelo mundo, ele comemorava a queda nos preços das ações que havia levado empresas brasileiras a amargarem um prejuízo superior a R$ 290 bi no valor de mercado de seus papéis. Diante desse cenário sombrio e desolador para o mundo real, Barsi “esfregou as mãos e foi às compras”, afinal, para esse experiente e bilionário investidor em papéis, o “mercado de ações não é de risco, mas de oportunidades”. Tratando essa crise como apenas “mais uma das 1 milhão e 100 mil crises” que ele já enfrentou desde que comprou sua primeira ação, Barsi não se mostrava preocupado e, ao contrário, aproveitava o que chamava de excelente momento do mercado[9].
Mas, se é necessário desconstruir a crença no casamento feliz entre essas duas esferas, produtiva e financeira, que a imprensa liberal insiste em nos fazer crer, é igualmente importante entender o tipo de razão que move a especulação. Pois, toda estratégia especulativa, eliminando deste termo qualquer resquício de preconceito moral ou legal, assenta-se em um tipo de racionalidade, afinal, todo trader busca maximizar seu potencial de lucro baseando-se na compra e venda de ativos financeiros, esteja o mercado subindo ou descendo. Ações questionáveis sob o ponto de vista lógico, como as que levaram um gato doméstico a derrotar gestores financeiros em uma competição por rentabilidade de ativos[10], podem indicar a aleatoriedade que predomina no mercado financeiro secundário, mas não significa afirmar que as pessoas, neste mercado, não façam uso de um tipo específico de razão.
Tratando o conceito de razão simplesmente como a capacidade de pensar e elaborar, mentalmente, meios de se chegar a uma conclusão sobre uma ação, na sociedade capitalista contemporânea, nos ensina a teoria ortodoxa, prevalece, então, o indivíduo racional, aquele que prefere mais a menos e, portanto, é um maximizador de utilidade e felicidade. Indivíduo atomizado, um ser natural cuja ação isolada deve buscar sempre o que é mais útil, ele deve ter seus impulsos baseados na maior vantagem que pode extrair ao fazer escolhas ótimas diante de um rol de alternativas que estão limitadas pela sua renda ou potencial de investimento. Pelo menos, assim afirmam os economistas ortodoxos[11]. Nesse ambiente de escolhas livres, o sucesso do agente maximizador de ganhos quando ele opera no mercado de ativos e derivativos não dependerá de uma melhora das condições econômicas ou da saúde pública, mas, tão somente, do momento, da rapidez e da manobra feita no mercado de capitais.
Portanto, o que norteia as ações nos mercados financeiros mundo afora é um tipo determinado de razão, uma racionalidade útil, instrumental ou pragmática, livre de qualquer criticismo[12]. Razão que deve, necessariamente, servir obviamente para uma finalidade útil e, por isso, deve também estruturar o pensamento com o propósito de fazer conexões lógicas que privilegiem tão somente o nível de utilidade da ação, para que, ao final, o resultado seja o de colocar o indivíduo em uma posição melhor do que a que se encontrava antes e em vantagem frente aos demais concorrentes. Por isso, uma razão subjetiva, pois servem ao interesse do sujeito quanto à auto-preservação. O mundo objetivo, ou real, aquele no qual predominam as relações entre os seres humanos e entre as classes sociais, as instituições sociais, a natureza e suas manifestações, não faz parte da estrutura que origina a razão subjetiva. A totalidade, ambiente por excelência da razão objetiva, não é convidada a participar da construção mental da razão subjetiva.
Portanto, não devemos cair na cilada de procurar uma mesma razão capaz de explicar, simultaneamente, a economia real e o mercado de capitais, nem tampouco colocar o segundo como uma espécie de profeta dos rumos da economia real. Se esta última determina a vida do cidadão comum e é o locus da luta de classes, a esfera financeira determina ganhadores e perdedores num mundo de apostas. O aprofundamento da pandemia, o aumento do número de mortos e infectados pela COVID-19, o desemprego de bilhões de trabalhadores mundo afora, a queda do PIB e da renda mundial, o endividamento público significam, para os especuladores do mercado de capitais, apenas informações que indicam as posições que tomarão no momento de fazerem suas escolhas de compra ou venda de papéis visando o máximo ganho. Apenas isso e nada mais. Não queiramos extrair desses movimentos aleatórios qualquer conclusão ou razão adicional.
Mas, ainda mais importante do que desconstruir essa ideia, que insistem em nos fazer crer, de que o mercado financeiro, ao responder aos estímulos da economia real, emitiria sinais de alerta para a sociedade como um todo sobre os rumos da nossa vida material, é entendermos que, no capitalismo, a fronteira entre instituições financeiras e não financeiras torna-se cada vez mais tênue. Ou seja, a apropriação da riqueza, seja sob a forma de ativo real ou fictício, seja por meio da produção de bens tangíveis ou da mera especulação com instrumentos financeiros derivativos, passa a se justificar com base na mesma lógica, a da escolha ótima, a que gera a maior vantagem e o maior ganho, a mesma que se fundamenta exclusivamente na razão subjetiva. Transforma-se, por assim dizer, na razão última que move a sociedade capitalista, baseada na lógica da valorização desmedida, esteja o capital em qualquer uma de suas formas. Inclusive, a dominância do estímulo financeiro sobre o real torna-se, assim, questão de sobrevivência do capital. A ordem é fazer a jogada que resulta no maior ganho pecuniário.
Diante dessa realidade, aos poucos, passamos a naturalizar todo tipo de ganho, desde que ele ocorra no ambiente da tão alegada justiça econômica. Mesmo a exploração e a espoliação de uma classe por outra se transformam numa mera questão de escolha da melhor estratégia frente à concorrência do mercado. A violência implícita nessas ações não é sequer considerada, ou mesmo percebida, pois são ações realizadas em consonância com a regra do livre jogo das escolhas individuais. Se o desemprego, o endividamento, o desespero, a fome ou a morte por vírus batem à porta das famílias espalhadas pelo mundo, a racionalidade dominante na sociedade capitalista tratará de deixar essas questões de lado, pois, a totalidade deve ser preocupação apenas dos filósofos que costumam perder tempo precioso com exercícios de razão objetiva. Para encerrar, lembremo-nos sempre de que, o interesse do detentor do capital no mundo hodierno, esteja ele atuando na indústria, no comércio ou no mercado de ativos e derivativos financeiros, será sempre o de valorizar-se, comportando-se conforme a racionalidade capitalista exige. O mundo concreto ao redor é um detalhe. Uma pandemia, apenas uma externalidade passageira.
NOTAS
[5] Coronavírus: economia global vai sofrer anos até se recuperar do impacto da pandemia, afirma OCDE.
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52002332. Acesso em: 23/03/2020
[7] CHESNAIS, François. O capital portador de juros: acumulação, internacionalização, efeitos econômicos e políticos. In CHESNAIS, François. (org.). A finança mundializada. São Paulo: Boitempo, 2005.
[8] BRAGA, J. C. S. Financeirização global: o padrão sistêmico da riqueza do capitalismo. In: FIORI, J. L.; TAVARES, M. C. (Ed.). Poder e dinheiro: uma economia política da globalização. São Paulo: Vozes, 1997. p. 195-242.
[10] Em experiência realizada pelo jornal britânico The Guardian, felino alcançou liderança de rentabilidade, reforçando a hipótese de economista que mercado acionário tem movimento totalmente aleatório.
Disponível em: https://www.infomoney.com.br/mercados/em-teste-gato-domestico-derrota-gestores-profissionais-no-mercado-de-acoes/. Acesso em: 08/04/2020.
[11] Como representante dessa abordagem na economia neoclássica, recomendamos a leitura de um dos expoentes da teoria marginalista na Economia. JEVONS, Willian Stanley. A teoria da economia política. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
[12] Para os interessados em se aprofundarem no debate entre razão objetiva e a subjetiva, ou instrumental, para a teoria crítica, recomenda-se, a título de provocação, o primeiro capítulo, Meios e fins, de HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2010.
[13] Agradeço às fundamentais contribuições dos professores Ana Paula Fregnani Colombi, Gustavo Moura de Cavalcanti Mello, Henrique Pereira Braga e Rafael Moraes, integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisa em Conjuntura, do Departamento de Economia da UFES para a construção deste texto, não sem antes isentá-los de quaisquer erros que, porventura, o autor tenha cometido.




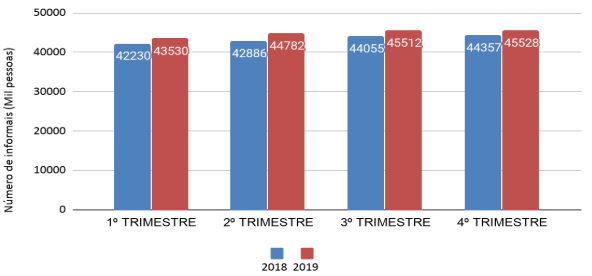

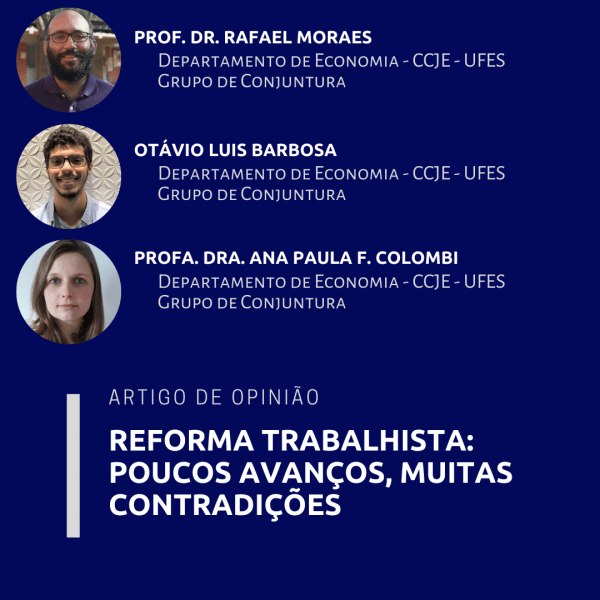


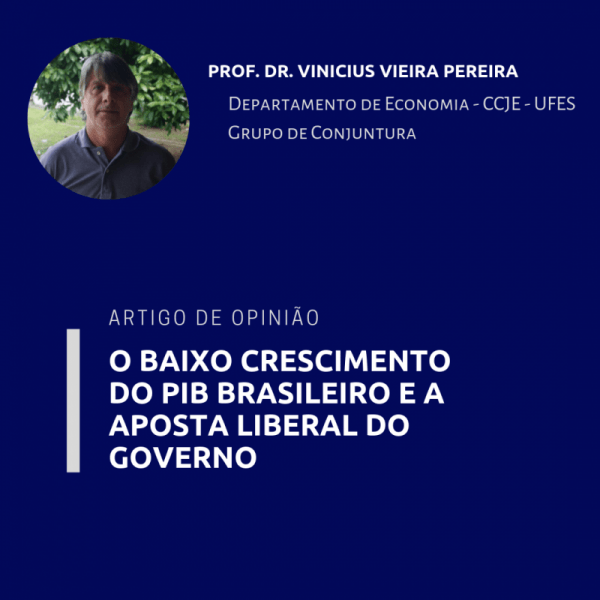
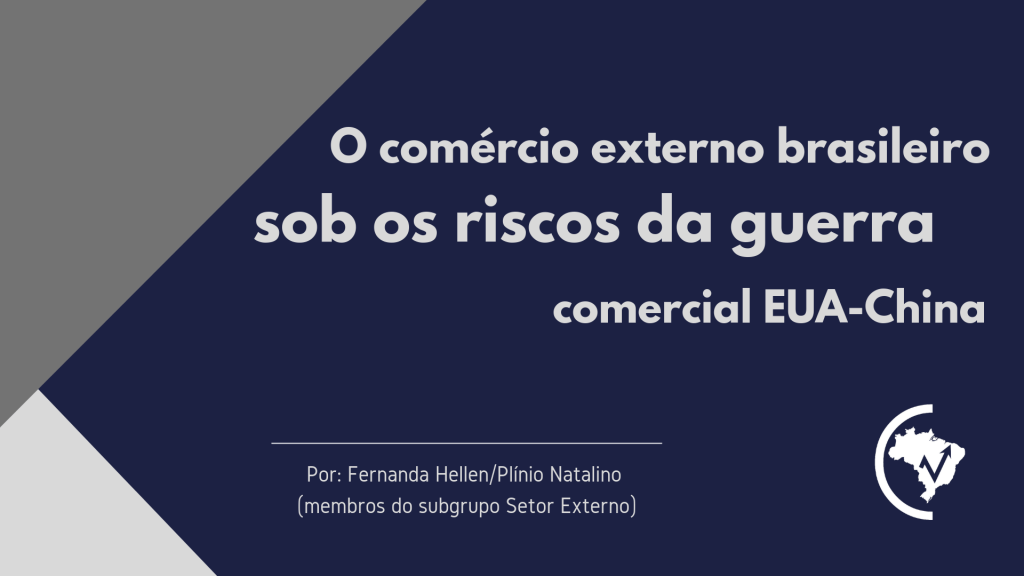 Fernanda Hellen Plínio Natalino Membros do subgrupo Setor Externo/Grupo de Conjuntura/UFES)
Fernanda Hellen Plínio Natalino Membros do subgrupo Setor Externo/Grupo de Conjuntura/UFES)